O uso estratégico de leis antigas nos Estados Unidos: o caso Alexandre de Moraes e outras situações polêmicas

O uso estratégico de leis antigas nos Estados Unidos: o caso Alexandre de Moraes e outras situações polêmicas
Uma nova face do uso jurídico nos EUA
Nos últimos anos, especialmente durante o segundo mandato de Donald Trump, os Estados Unidos têm recorrido com frequência a leis antigas ou pouco utilizadas para justificar ações políticas, diplomáticas e até comerciais. O caso mais recente envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes, sancionado sob a Lei Magnitsky, que normalmente é aplicada em contextos de violações graves de direitos humanos e corrupção.
Essa tendência revela uma mudança no uso de instrumentos jurídicos por parte do governo americano, trazendo à tona debates sobre o equilíbrio entre a legislação interna, o direito internacional e as relações diplomáticas globais.
A Lei Magnitsky: contexto e aplicação recente
A Lei Magnitsky foi criada inicialmente para punir os responsáveis pela morte do advogado russo Sergei Magnitsky, em 2009. Ela foi assinada em 2012 pelo então presidente Barack Obama, e expandida em 2016, transformando-se em um instrumento global de combate a abusos de direitos humanos e corrupção.
Ela permite ao governo americano:
-
Bloquear bens e contas de pessoas e empresas estrangeiras
-
Impedir o acesso ao sistema financeiro americano
-
Proibir a entrada no território dos EUA
Historicamente, a lei foi usada em casos de assassinato, tortura e genocídio, como no caso da morte do jornalista Jamal Khashoggi ou do líder militar de Mianmar, Min Aung Hlaing. O uso da mesma legislação contra Alexandre de Moraes marca um novo capítulo — considerado por juristas como uma aplicação fora do escopo tradicional da lei.
Sanções a Alexandre de Moraes: o que aconteceu?
Em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra Alexandre de Moraes. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o ministro estaria conduzindo uma "caça às bruxas" contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo cidadãos e empresas americanas, e que isso justificaria o uso da Lei Magnitsky.
Com isso, Moraes passou a estar sujeito ao bloqueio de quaisquer bens nos EUA e à proibição de negócios com entidades americanas.
Especialistas ouvidos pela imprensa brasileira classificaram a medida como politicamente motivada e legalmente questionável. Além disso, levantaram o ponto de que não há evidências de violações graves de direitos humanos ou corrupção no caso de Moraes, o que descaracterizaria a base legal para a sanção.
O resgate de leis antigas por Trump
Esse episódio se soma a outras decisões recentes em que o governo Trump utilizou leis antigas ou interpretações incomuns para justificar ações estratégicas, com implicações jurídicas e diplomáticas significativas.
Veja abaixo quatro casos emblemáticos:
1. Lei de Inimigos Estrangeiros (1798)
Originalmente criada no século 18, a Lei de Inimigos Estrangeiros foi usada durante o segundo mandato de Trump para justificar a deportação de mais de 100 venezuelanos. Eles foram acusados, sem provas públicas, de integrarem organizações criminosas.
A legislação permite a expulsão de estrangeiros de países considerados hostis, mesmo sem julgamento. O problema, segundo especialistas, é que ela foi aplicada fora de contexto, uma vez que os EUA não estão em guerra formal com a Venezuela.
2. Seção 301 da Lei de Comércio (1974)
A Seção 301 foi reativada para investigar práticas comerciais brasileiras que, segundo o governo americano, prejudicam empresas dos EUA. Entre os alvos estão:
-
O sistema de pagamentos brasileiro PIX
-
O comércio popular da Rua 25 de Março, em São Paulo
-
Práticas ambientais ligadas ao desmatamento
Esse uso foi considerado excessivamente amplo e politizado, segundo especialistas em comércio exterior, já que essas medidas geralmente são tratadas em instâncias como a Organização Mundial do Comércio (OMC).
3. Lei da Insurreição (1807)
Durante protestos em junho de 2025, Trump ameaçou invocar a Lei da Insurreição para enviar tropas militares a Los Angeles. A legislação autoriza o uso das Forças Armadas em casos de rebelião ou colapso da ordem pública.
Apesar de não ter acionado formalmente a lei, o presidente enviou cerca de 700 fuzileiros navais para proteger prédios públicos. Essa decisão gerou críticas internas e levantou preocupações sobre o uso da força federal em contextos de manifestação civil.
4. Uso da Lei Magnitsky fora do padrão
Além do caso de Moraes, há outros episódios controversos envolvendo a Lei Magnitsky. O mais notável foi o do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado no consulado da Arábia Saudita na Turquia, e o comandante militar de Mianmar, acusado de genocídio contra o povo ruainga.
A comparação com esses casos revela que a aplicação da lei ao ministro brasileiro está fora dos padrões anteriormente adotados, reforçando a visão de que o instrumento está sendo politizado.
A reação brasileira e internacional
A medida causou forte reação no Brasil. O Itamaraty classificou a ação como agressiva e afirmou que representa um dos momentos mais delicados da diplomacia entre os dois países.
Diversos ministros do Supremo Tribunal Federal saíram em defesa de Moraes. Em nota oficial, a Corte declarou que ele "não se desviará de seu papel de cumprir a Constituição".
Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou publicamente a decisão, afirmando que o Brasil não se curvará a pressões externas.
A visão dos especialistas
Juristas brasileiros e internacionais têm questionado o uso da Lei Magnitsky no caso Moraes. De acordo com Carlos Portugal Gouvêa, professor de Direito Comercial da USP, a sanção não tem embasamento jurídico claro:
“Essa lei pode ser usada em casos de assassinatos, torturas e graves violações de direitos humanos, e precisa ter embasamento em investigações por instituições e ONGs sérias. A situação do Moraes não se enquadra porque foge do escopo da lei.”
Além disso, o uso de outras legislações antigas — como a Lei de Inimigos Estrangeiros e a Lei da Insurreição — tem sido interpretado como uma forma de fortalecer o poder executivo americano em detrimento de mecanismos legais e diplomáticos mais equilibrados.
O impacto nas relações Brasil-EUA
O uso recorrente de sanções e leis antigas por parte dos Estados Unidos, especialmente sob a liderança de Donald Trump, tem provocado distorções nas relações diplomáticas e criado tensões com países aliados.
O caso de Alexandre de Moraes pode representar um divisor de águas na forma como os países do hemisfério sul, como o Brasil, responderão a ações unilaterais dos EUA.
Por outro lado, também coloca em debate a necessidade de revisão dos tratados e acordos internacionais para lidar com esse tipo de ação, preservando o equilíbrio entre soberania nacional e a defesa de direitos humanos.
Um alerta para o futuro
A frequência com que leis antigas estão sendo utilizadas de forma estratégica pelos Estados Unidos acende um sinal de alerta para governos, diplomatas, juristas e observadores internacionais. Há uma linha tênue entre a legitimidade jurídica e o uso político do sistema legal.
A globalização e a interdependência entre países exigem que normas internacionais sejam respeitadas e que instrumentos jurídicos não sejam utilizados como armas políticas.
Enquanto isso, casos como o de Alexandre de Moraes continuarão sendo estudados e debatidos como exemplos de como o direito, a diplomacia e a política internacional se cruzam em um cenário cada vez mais complexo.


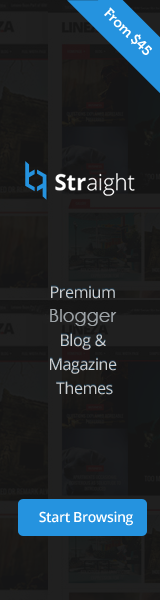







Nenhum comentário